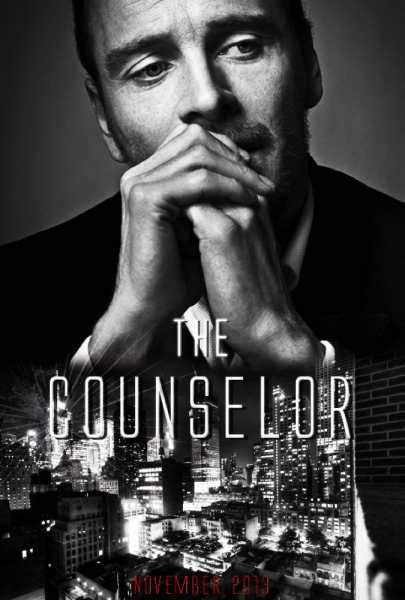0
INSIDE LLEWYN DAVIS, BALADA DE UM HOMEM COMUM
Posted by Clenio
on
21:21
in
CINEMA 2014
Não adianta. Entra ano e sai ano, os irmãos Coen continuam sendo uma voz única (por mais paradoxal que seja a afirmação, uma vez que eles são dois) dentro da mesmice do cinema americano. Mesmo que por vezes aceitem fazer o jogo da indústria - com filmes mais comerciais, como "O amor custa caro" e "Queime depois de ler", que ainda assim tem um quê de rebeldia disfarçada pelos elencos estelares - eles nunca abrem mão de imprimir em cada trabalho uma personalidade que os diferenciam do mainstream. Mais uma prova disso - se é que precisa de mais uma - é seu novo filme, o melancólico "Inside Llewyn Davis, balada de um homem comum", injustamente ignorado pela mesma Academia que encheu de louvores o fraco e previsível "Clube de compras Dallas". Repleto das qualidades que fazem da filmografia dos Coen uma das mais consistentes do cinema ianque desde sua estreia com a revisita ao filme noir "Gosto de sangue" (84), a odisseia do músico folk do título, vivido com intensidade crua pelo ótimo Oscar Isaac, é uma pérola de sensibilidade, humor negro e boa música, capaz de envolver a audiência sem precisar de grandes eventos dramáticos para isso.
Llewyn Davis, o protagonista, é um cantor folk sem lar, sem lenço e sem documento que transita pelo Greenwich Village de 1961, buscando uma chance de firmar-se na carreira. Seguindo o vento, ele conta com a ajuda dos amigos para sobreviver sem um endereço fixo - mesmo que em várias ocasiões surjam conflitos sérios entre eles, especialmente com Jean (Carey Mulligan, mais uma vez ameaçando roubar a cena), namorada e parceira artística do talentoso Jim (o cantor Justin Timberlake acertando mais uma vez em sua carreira cinematográfica). Sua vida itinerante frequentemente o faz questionar sua opção em tentar a vida artística, mas seu amor pela música sempre fala mais alto, mesmo quando tudo parece lhe gritar o contrário. Sua trajetória é ilustrada pela essencial trilha sonora supervisionada por T Bone Burnett e iluminada magistralmente pela câmera do francês Bruno Delbonnell (merecidamente indicada ao Oscar), que transforma cada cena em uma pequena obra de arte que reflete o estado de espírito atormentado - mas sempre inquebrantável - do protagonista.
Brilhantemente interpretado por Oscar Isaac - ator nascido na Guatemala e que já foi visto mas pouco notado em filmes como "Drive" (onde fazia o marido de Carey Mulligan) e "W/E, o romance do século" (dirigido por Madonna) - Llewyn Davis é mais um anti-heroi criado pelos Coen, um homem comum (exatamente como descrito pelo desnecessário subtítulo nacional) tentando superar os obstáculos de um cotidiano opressor e preto-e-branco contando apenas com sua quase inquebrantável força de vontade e seu talento quase nunca devidamente reconhecido (e é diferente na vida real?). Passando por momentos ora surreais - como a carona com um desagradável John Goodman - ora de um tristeza quase tangível, o filme conquista pela sofisticação de sua narrativa e pela delicadeza estonteante de seu visual. É um pequeno grande filme que merece ser reconhecido como tal - nem que seja para provar que nem só de elaborados efeitos especiais vive o cinema americano.
Llewyn Davis, o protagonista, é um cantor folk sem lar, sem lenço e sem documento que transita pelo Greenwich Village de 1961, buscando uma chance de firmar-se na carreira. Seguindo o vento, ele conta com a ajuda dos amigos para sobreviver sem um endereço fixo - mesmo que em várias ocasiões surjam conflitos sérios entre eles, especialmente com Jean (Carey Mulligan, mais uma vez ameaçando roubar a cena), namorada e parceira artística do talentoso Jim (o cantor Justin Timberlake acertando mais uma vez em sua carreira cinematográfica). Sua vida itinerante frequentemente o faz questionar sua opção em tentar a vida artística, mas seu amor pela música sempre fala mais alto, mesmo quando tudo parece lhe gritar o contrário. Sua trajetória é ilustrada pela essencial trilha sonora supervisionada por T Bone Burnett e iluminada magistralmente pela câmera do francês Bruno Delbonnell (merecidamente indicada ao Oscar), que transforma cada cena em uma pequena obra de arte que reflete o estado de espírito atormentado - mas sempre inquebrantável - do protagonista.
Brilhantemente interpretado por Oscar Isaac - ator nascido na Guatemala e que já foi visto mas pouco notado em filmes como "Drive" (onde fazia o marido de Carey Mulligan) e "W/E, o romance do século" (dirigido por Madonna) - Llewyn Davis é mais um anti-heroi criado pelos Coen, um homem comum (exatamente como descrito pelo desnecessário subtítulo nacional) tentando superar os obstáculos de um cotidiano opressor e preto-e-branco contando apenas com sua quase inquebrantável força de vontade e seu talento quase nunca devidamente reconhecido (e é diferente na vida real?). Passando por momentos ora surreais - como a carona com um desagradável John Goodman - ora de um tristeza quase tangível, o filme conquista pela sofisticação de sua narrativa e pela delicadeza estonteante de seu visual. É um pequeno grande filme que merece ser reconhecido como tal - nem que seja para provar que nem só de elaborados efeitos especiais vive o cinema americano.